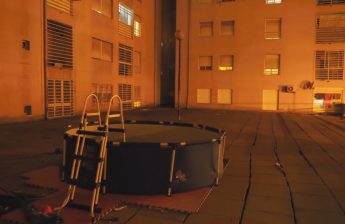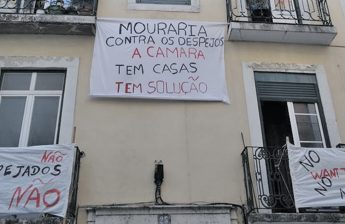Zillah Branco vai a caminho do trabalho quando é surpreendida pelo ambiente pesado de soldados que procuram impor o recolher obrigatório e perseguir apoiantes do governo. De imediato, tenta dirigir-se de carro à escola onde estudam os filhos mas não consegue. Dezenas de pessoas desesperadas entram na viatura em fuga dos militares. A exilada brasileira, que fugira da ditadura no seu país quatro anos antes, via-se, novamente, no centro da barbárie.
No centro de Santiago, Alicia Lira vai a caminho da livraria da sede da Juventude Comunista. Na Rua Alonso Valle, os soldados param o autocarro onde segue e ordenam a saída de todos os passageiros. Daí, vê-se obrigada a tomar uma carrinha de caixa aberta como tantas outras que transportam trabalhadores de regresso a casa.
Ainda em casa, o estudante universitário Alejandro Kirk, de 17 anos, também militante da Juventude Comunista, forjado na Brigada Ramona Parra, grupo muralista que se evidenciou na campanha que deu a vitória a Allende, prepara-se para uma reunião de propaganda quando se dá conta que havia rebentado um golpe.
“Trabalhadores da minha pátria, tenho fé no Chile e no seu destino. Outros homens superarão este momento cinzento e amargo sobre o qual a traição se pretende impor. Continuem sabendo que muito mais cedo que tarde se abrirão novamente as grandes alamedas pelas quais passarão homens livres para construir uma sociedade melhor. Viva o Chile! Viva o povo! Viva os trabalhadores! Estas são minhas últimas palavras e tenho certeza de que o meu sacrifício não será em vão. Tenho a certeza de que, pelo menos, será uma lição moral que castigará a perfídia, a cobardia e a traição”. Às 10.15 em ponto, os três, sem se conhecerem, como tantos outros milhões, estão agarrados às telefonias e ouvem a voz calma de Salvador Allende que transmite a partir do palácio presidencial, já assediado pelas tropas golpistas. Quinze minutos depois, a artilharia começa a disparar contra as janelas do edifício.
“O golpe não foi uma surpresa. A Bolívia tinha sofrido um golpe [no mês anterior] e a Argentina também [1966]. Foi uma época em que a CIA e os Estados Unidos formavam militarmente os exércitos da América Latina”, recorda Zillah Branco. “Esse golpe era esperado mas tínhamos sempre esperança porque a coligação Unidade Popular era bastante ampla, tinha muita gente, as manifestações estavam sempre cheias de trabalhadores e estudantes. Pensávamos que era possível evitar o golpe”, descreve.
Zillah Branco chegara ao Chile em 1970 e trazia na pele a experiência da perseguição política. Militante comunista desde muito jovem, recorda que a ditadura brasileira espoletou a violência e o ódio. “Os meus primos, reacionários, passaram a usar revólver porque faziam parte do Comando de Caça aos Comunistas. Eu nem pude avisar os meus pais que ia fugir do Brasil. Inventei que ia me demitir do emprego, vender o carro e comprar uma passagem turística para conhecer a América Latina. Na verdade, eles ficaram contentes porque tinham medo do que me pudesse acontecer no Brasil”.
Quando chegou ao Chile, o coração rebentou-lhe de felicidade ao ver as sedes abertas do Partido Comunista e as suas bandeiras em liberdade. Ali, passou a trabalhar para um organismo criado pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) em conjunto com os movimentos sociais e o governo para potenciar a reforma agrária.
Como Zillah Branco e Alejandro Kirk, Alicia Lira, agora presidente do Agrupamento de Familiares de Executados Políticos (AFEP), participou também na campanha que elegeu Salvador Allende para a presidência do país. “Ouvimos o discurso e ficámos paralisados. A minha atitude ao ouvi-lo pela rádio foi indescritível. A voz dele, essa tranquilidade…eu por exemplo pensava que o que estava a acontecer não era tão grave até saber que estavam a disparar sobre o palácio e até ouvir Allende. Aí percebemos que era muito sério…”
“Eu estava na campanha de Allende quando ainda estudava na escola secundária. Eu fazia parte da Brigada Ramona Parra. Foi muito impactante. Era uma guerra permanente com os outros candidatos. Havia muros que eram pintados duas ou três vezes por noite. Às vezes havia batalhas físicas e até disparos entre estudantes e trabalhadores do lado da Unidade Popular e homens contratados pelos candidatos da direita. Foi um período muito intenso porque havia uma grande esperança e um movimento popular muito forte”, descreve Alejandro Kirk, hoje jornalista da Telesur. “No dia da vitória, houve cerca de um milhão de pessoas nas ruas para ouvir Allende”.
Para o recém eleito presidente do Chile, que defendia uma via democrática e pacífica para o socialismo num país periférico, estava aberto o caminho para uma “revolução com sabor a vinho tinto e empanadas” como proclamou num dos seus discursos. A nacionalização da indústria do cobre, a reforma agrária e um conjunto de outras medidas eram propostas que abriam um caminho alternativo ao Chile.
“O governo começou a cumprir o seu programa em pouco tempo e o nível de vida da população melhorou substancialmente. Em cada escola, as crianças recebiam meio litro de leite por dia. Num país empobrecido pela exploração dos nossos recursos, havia um elevado nível de desnutrição e isso mudou”, explica Alejandro Kirk. Entretanto, o governo multiplicou o salário mínimo e as pessoas passaram a ter mais poder aquisitivo. Construíram-se casas, eram mudanças reais e não cosméticas. Para além disso, houve um câmbio cultural. Eu era adolescente e foi muito bonito sê-lo nessa época”.
Mas os Estados Unidos e a oligarquia chilena começaram a planear a queda de Allende desde o primeiro momento. Dias antes da tomada de posse do socialista, com o apoio da CIA, um grupo de extrema-direita sequestra o comandante máximo do exército, René Schneider, com o objectivo de que houvesse uma intervenção militar que evitasse que Allende chegasse à presidência. Durante a tentativa de sequestro, o general é assassinado.
“Durante a presidência de Allende houve muitas tentativas de sabotagem. Havia paralisações de camionistas, dos transportes de alimentos, desaparecia comida dos mercados. Sentíamos a presença imperialista”, explica Zillah Branco.
Segundo documentos norte-americanos classificados, publicados muitas décadas depois, Richard Nixon, Presidente dos Estados Unidos, pedira ao então conselheiro de Segurança Nacional, Henry Kissinger, “fazer gemer a economia” chilena e solicitara “dar um pontapé no rabo do Chile” devido à nacionalização do cobre. “O exemplo de um bem sucedido governo marxista eleito no Chile certamente teria um impacto noutras partes do mundo, principalmente em Itália. A propagação imitativa de fenómenos similares noutros lugares, por sua vez, afetaria significativamente o equilíbrio mundial e a nossa própria posição nele”, alertou Kissinger. “Se houver uma forma de fazer cair Allende, é melhor fazer isso”.
Por volta do meio dia, a força aérea começa a bombardear o palácio presidencial. Salvador Allende, como prometera na emissão de rádio, não se rende. Zillah, Alicia e Alejandro ouvem as explosões. Às 14.38, um dos golpistas responsáveis pelo assalto à sede presidencial informa Pinochet de que Salvador Allende estava morto.
Um terror que durou década e meia
“Havia um recolher obrigatório que começava às seis da tarde e acabava às seis da manhã. Matavam nas ruas e não queriam que a gente assistisse. Foi uma chacina muito violenta. Uma das belezas de Santiago era o rio Mapocho que passa pelo meio da cidade e víamos os corpos no rio”, descreve Zillah Branco. Muitos dos brasileiros que conhecia e que haviam fugido da ditadura no Brasil foram presos e torturados. Conseguiu que o pai dos seus filhos os viesse buscar e no dia seguinte a casa foi invadida pela polícia. “Bebi um whiskey que me ofereceram e acordei de madrugada com a polícia dentro de casa. Entraram super armados. Instalaram uma metralhadora apontada para o meu quarto e abriram gavetas, jogando tudo no chão. Foi uma coisa terrível. Ouvíamos passos de gente correndo nas ruas e disparos”. Muitos corriam para as embaixadas. Mais de 200 mil pessoas fugiram do país. Foi o caso de Zillah Branco. “Peguei o primeiro avião que foi possível pegar. Os aviões escasseavam e escolhi Lima porque era o mais barato. Cheguei bastante abalada sem saber o que estava a fazer”. Mais tarde, já no Brasil, depois de ser despedida do jornal em que trabalhava por ser comunista, partiu para Lisboa. “Estávamos a ouvir a rádio de manhã e ouvimos a notícia do 25 de Abril. O meu filho mais pequeno disse que devíamos ir para Portugal. E assim foi”.
Alejandro Kirk também acabou no exílio. “Devo confessar que para os jovens, aquele era o momento de responder com a força. Pensávamos que vinha uma guerra civil. Para os mais velhos, foi um momento triste porque se davam conta da magnitude do que estava a acontecer. Não havia qualquer possibilidade de responder. Acreditávamos que sim. Depois veio uma grande frustração”, explica.
Logo no dia do golpe, o agora jornalista saiu de casa com outros camaradas para ver se havia algum tipo de resistência. “Tínhamos um plano para estes casos e havia uma lista de casas seguras mas foi anedótico porque fomos parar ao apartamento de um italiano que queria expulsar-nos de casa em pleno recolher obrigatório”, recorda. Mais tarde, os militares invadiram-lhe a casa. “Fui denunciado por vizinhos, por gente que me viu crescer. A mãe de um amigo gritava pela janela: ‘agarrem esse comunista, matem-no’”.
O pai, vice-reitor de uma universidade noutra região, foi expulso da profissão. Muitas das pessoas que lhe estavam próximas foram assassinadas durante a chamada Caravana da Morte. Em 1975, decidiram fugir do país para a Venezuela. Até esse momento, Alejandro Kirk foi um dos muitos que ajudavam na proteção de dirigentes comunistas que estavam em fuga.
“El amor de mi vida”
Corre, corre o mais que pode. Até deixar de conseguir. Ao longe, vê a viatura dos militares desaparecer com o seu companheiro. “Sequestraram em casa o meu ‘negro’, era o amor da minha vida. Tínhamos trabalhado juntos, militado juntos, nas campanhas eleitorais, no governo”, lembra Alicia Lira. Foi em 1986. Primeiro prendem-lhe o irmão, Diego Lira, que era combatente da Frente Patriótica Manuel Rodriguez, braço armado do Partido Comunista para responder à ditadura fascista. Nesse mesmo ano, a organização tenta matar o ditador Augusto Pinochet. A resposta do regime foi brutal. No dia seguinte, os militares entraram na casa de Alicia e levaram o amor da sua vida, Felipe Rivera. Vinte e quatro horas depois, estava na morgue para reconhecer o cadáver. “Tinha 13 orifícios de bala no corpo”.

Em 1990, o irmão de Alicia Lira, Diego, protagoniza, com outros 48 camaradas, a maior fuga da história do Chile. Durante um ano, escavam um túnel e conseguem fugir das garras do regime numa fuga que ficou conhecida como o “túnel da liberdade”.
Alicia Lira é hoje presidente de uma das principais organizações que representam os familiares dos executados e desaparecidos. Segundo a ativista, há neste momento ainda 1380 casos abertos na justiça. O balanço da barbárie fascista é brutal: mais de 2200 pessoas foram assassinadas, cerca de 30 mil foram presas e torturadas e há, ainda hoje, 1280 pessoas desaparecidas. Cinco décadas depois, para esta mulher que viveu em carne própria a violência do regime, a conclusão é óbvia: “não se fez justiça”.