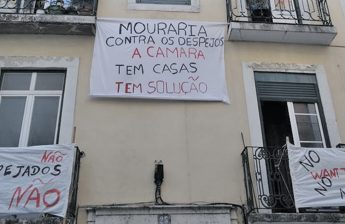O Congresso dos Jornalistas, realizado no início do ano no Cinema S. Jorge, concluiria que o jornalismo nacional vive em “estado de emergência”. Uma emergência em que o episódio mais recente ocorreu no grupo Global Média. Mal empossada, a nova administração deixava de pagar salários e anunciava mais uma onda de despedimentos coletivos nas redações dos órgãos de comunicação do grupo (DN, JN, Açoriano Oriental, Jogo, TSF, Dinheiro Vivo). Nada que outros já não tenham experimentado. A crise sempre como antecâmara de despedimentos. No Grupo Trust in News, detida por Luís Delgado, os trabalhadores da Visão e Jornal de Letras recebiam salários com atraso desde novembro de 2023. A greve avançaria a 10 de janeiro, com uma adesão massiva e a manifestação de apoio de outros camaradas. Mas está sempre presente a ideia de um negócio em declínio, que arrasta para a cova uma agonizante profissão como legenda da crise. E são de facto os jornais um negócio falido? E a profissão de jornalista está condenada a morrer?
Alfredo Maia, com uma carreira de jornalista no JN, professor, mas também presidente do Sindicato dos Jornalistas entre 2000 e 2015 não concorda: “Não, nem uma coisa nem outra. Assim sejam capazes de reencontrar-se, com imaginação e honestidade, com os seus leitores, e assim que recuperem o controlo da distribuição, independentemente das plataformas, os jornais voltarão a ser uma atividade interessante”.
Quanto à profissão, Maia acredita que o jornalismo vai sobreviver se se “recentrar na sua missão de mediação com objetivos claros de informar e de contribuir para uma cidadania esclarecida e não manipulada”.
Pedro Tadeu, antigo subdiretor do Diário de Notícias e diretor da agência Global Imagens, não acredita que o jornalismo desapareça, ainda que “as condições de trabalho estejam a ser profundamente alteradas e degradadas, o que é grave”.
Para Pedro Tadeu há um problema no negócio dos jornais que resulta das “transformações dos hábitos sociais que afastam as pessoas da sua leitura” e um problema do sistema de educação, de falta de capacidade crítica: “As pessoas sentem-se satisfeitas com a pouca informação ou com a informação pouco qualificada que recebem através do telemóvel ou através das redes sociais e não veem no jornalismo uma necessidade para o enriquecimento pessoal”.
Falando do negócio dos jornais, Pedro Tadeu considera que, “em Portugal, deixou de interessar às grandes empresas porque, do ponto de vista propagandístico e da sua influência política, as empresas conseguem melhores resultados utilizando os novos meios digitais, nomeadamente as redes sociais” mais eficazes “quer para a sua propaganda, quer para sua influência económica e política”. E, sendo assim, “cada vez precisam menos do jornalismo comercial”. Como solução defende “uma reconfiguração do negócio que tem de procurar receitas noutro lado”.
Nuno Ramos de Almeida, editor-chefe do Diário de Notícias, não subscreve a ideia de que o jornalismo não dê lucros: “Não é possível dizê-lo, apenas é possível dizer que não deu lucro aos proprietários dos órgãos de comunicação social”, diz. E não é o mesmo? “Não! Há aqui um problema na nova forma do capitalismo das grandes corporações monopolistas, oligopólios, nas redes, nas grandes empresas centradas sobretudo nos Estados Unidos, o jornalismo dá imenso lucro. O problema é que dá lucro ao Facebook, ao Instagram, ao Google. Temos um problema: o mecanismo de produção de informação transformou os produtores de informação especializados em produtores gratuitos, para o lucro de terceiros”.
O editor-chefe do DN explica: “Há cada vez mais publicidade na internet, cada vez menos no papel e menos na televisão, e o lucro dessa publicidade vai para a internet, não para os produtores de conteúdos de internet em cada país, mas para os grandes monopólios centrados, sobretudo, nas empresas tecnológicas dos Estados Unidos”.
Nuno Ramos de Almeida defende, portanto, “uma nova ordem internacional do ponto de vista da distribuição dos lucros das publicidades na internet”.
Mas há, sustenta, um segundo problema: “Desde sempre o modelo económico, industrial do jornalismo foi feito embaratecendo, para o público, aquilo que é do jornalismo. Antigamente, no modelo industrial dos jornais, a publicidade tendia a pagar três vezes mais que a venda. E, portanto, as pessoas identificam uma peça jornalística com um grande valor de uso, mas com um pequeno valor de troca”. Só que, acrescenta, o problema agravou-se com a internet e a divulgação gratuita desses conteúdos. “Ganharam-se dois problemas. O primeiro é que isso ainda se tornou mais gratuito, porque inicialmente a internet era aberta e, portanto, as pessoas dissociaram o preço do custo do trabalho, da mão-de-obra, da criatividade do jornalista, do pagamento”, sendo, portanto, necessário, “um novo modelo de negócio que sustente o jornalismo”.
Pedro Tadeu, lembra que, “um estudo recente da Marketeste concluía que só 11% dos leitores estão dispostos a pagar assinaturas digitais”. Talvez porque, acrescenta, “há um afunilamento de temas, ideológico e de receitas, ou seja, tudo é mais pequeno relativamente ao que era há uns anos”. Mas acredita que, “mais tarde ou mais cedo, o capitalismo que é um sistema com muitos defeitos e que se baseia na exploração desenfreado da humanidade, tem de qualquer maneira uma imaginação prodigiosa para encontrar receitas e a parte de negócio do jornalismo, um dia, encontrará forma de ter as receitas, a dimensão e a influência que também precisa”.
A qualidade do jornalismo na internet é outro dos problemas que contribuirá para a falência do negócio, sustenta Nuno Ramos de Almeida: “Confunde-se a mediação jornalística, trabalhada, aprofundada, com aquilo que qualquer pessoa decide postar na internet”. Isto é, há incapacidade de distinguir o trigo do joio com culpa para os detentores dos OCS: “Quando entraram em crise, a reação dos patrões não foi manter a diferença de conteúdo e de qualidade e investir nas redações, foi, pelo contrário, cortar nas redações”, contribuindo para que o produto jornalístico passasse a ser pouco trabalhado. Por outro lado, diz o editor chefe do DN, “os jornalistas produzem em matilha notícias que surgem em vários sítios sem sequer as confirmarem, sem tentarem ver se é verdade ou se é mentira”, porque existe um modelo que está comprometido com a velocidade da internet. “Na internet tem de ser a grande velocidade para que o primeiro a publicar ganhe mais nas redes sociais e consegue que o seu post seja dominante nessa distribuição. O que é que acontece, os jornalistas não confirmam a notícia, não falam com terceiros, não explicam”.
Para Pedro Tadeu as omissões do jornalismo nacional são imensas: “Não temos jornalismo de proximidade, noticiário regional, cobertura do território, defesa da língua portuguesa, diversidade ideológica proporcional representativa dos partidos portugueses, nem das correntes ideológicas que existem em Portugal, não temos noticiários do que vão fazendo as universidades, associações culturais, os sindicatos, associações patronais, não temos noticiário corrente dos Países de Língua Oficial Portuguesa, a não ser quando há incidentes de grande gravidade ou de grande impacto político, não há um jornalismo crítico das instituições europeias”, em suma, “há um conjunto de matérias de interesse público que, por não ser negócio, a natureza do serviço privado não vai preencher”.
Ora, considera Tadeu, os leitores portugueses estão condenados a ficarem privados de “um universo de informação pertinente, polémica e que necessita de ser escrutinada” porque o jornalismo privado “nunca irá fazer porque não é do seu interesse”.
Parece pois uma evidência que o modelo de negócio não está a funcionar, seja por perda de controlo da distribuição, pela alteração de hábitos dos leitores, pela desvalorização do trabalho jornalístico ou pela canibalização dos lucros por parte das grandes corporações monopolistas ou oligopólios, pela pouca qualidade de um jornalismo que perdeu o sentido de serviço público, a verdade a que os leitores deixaram de sentir a necessidade de beber informação nos jornais e o valor facial da notícia está pelas ruas da amargura. Então que fazer? Autonomiza-se a profissão e separa-se do negócio? “A menos que sejam inventadas formas de garantir o sustento dos profissionais que não ponham em causa a sua independência, não vejo como seja possível uma ‘separação’ ou uma autonomia económica dos jornalistas em relação às empresas de média. Mas, em qualquer caso, para publicar os seus trabalhos necessitarão de um espaço, de uma plataforma (um jornal, uma rádio, uma televisão, um sítio na internet…) e de uma estrutura que os suporte e que lhe dê o respaldo (equipamento, logística, salário, dias de descanso e de férias, etc.) Imprescindível”, diz Alfredo Maia.
E pode o jornalista ser uma profissão suportado pelo Estado, como por exemplo os juízes? “É uma hipótese teórica que dificilmente vejo resistir a perguntas básicas”, diz Alfredo Maia: “Primeira: onde, em que e através de que órgãos seriam difundidos os seus trabalhos? Segunda: como ressarciriam os OCS o Estado pelos encargos com os jornalistas?”, conclui.
Para Pedro Tadeu o problema da criação pelo Estado de um jornal público que cumprisse estas funções pode criar um outro problema: “ficar dependente de um interesse político de um determinado governo e que, sempre que muda o governo ter de mudar de diretor e de orientação editorial.” Mas, desde que isso seja resolvido… e há várias soluções, defende: ”Pode haver um jornal do Estado que não esteja dependente de um ministro ou de um governo, mas de instituições estatais que não dependam diretamente do governo. Isso pode ser construído. Não digo que defenda isto, porque tem de ser bem discutido, pensado e trabalhado, mas porque não um jornal da Associação Nacional de Municípios? Porque não um jornal do Conselho Económico e Social? Porque não um jornal dependente da Assembleia da República? Ou um jornal que misture Estado e Sociedade Civil? Acho que, de qualquer maneira, é necessário criar rapidamente um jornal de serviço público que funcione também como elemento retificador de várias coisas: das grelhas salariais, que não seja muito baixo de um lado e muito alto do outro, que tenha um comportamento na internet e nas redes sociais que seja pedagógico e interativo com os leitores”. Pedro Tadeu defende que “rádio, televisão públicas, a agência noticiosa e um eventual jornal público deviam ter um caderno de encargos mais afinado para os interesses da sociedade, do que tem hoje em dia”.
Já Nuno Ramos de Almeida defende apoios cegos do Estado a projeto jornalísticos, aliás como, lembra acontece, por exemplo, no Luxemburgo. “Primeiro é importante desmentir a ideia falsa de que o jornalismo antigamente não estava ligado a interesses. O jornalismo sempre esteve ligado a interesses”, afirma Ramos de Almeida, para quem a diferença substancial entre o que se passava e o que se passa é que “antigamente um grupo de jornalistas conseguia fazer um jornal, e, portanto, havia interesses plurais que se podiam expressar, neste momento só o grande capital consegue ter empresas jornalísticas”, o que se traduz no “afunilamento à direita, a favor dos neoliberais que, embora gostassem que fosse sustentável, o seu grande negócio é a influência”.
Há, pois, segundo o editor-chefe do DN, “uma incapacidade dos grupos de jornalistas que não têm uma agenda liberal, de extrema-direita, fascizante, de construir órgãos de comunicação social alternativos”.
Nuno Ramos de Almeida defende que para haver uma autonomia dos jornalistas “é preciso conseguir modelos de negócio apoiados pelos leitores, o que é complicado porque os leitores, mesmo os de esquerda, estão habituados a que a informação seja parecida com o preço zero”. Ramos de Almeida admite “um modelo de negócio alternativo que tinha de ter uma componente de angariação de assinaturas, de publicidade, de patrocínios, de economia social, mas também uma componente pública”.
Financiada também pelo Estado, perguntamos. “Sim, o Estado deve considerar que uma informação plural é um bem democrático essencial e deve haver um conjunto de apoios cegos, aos órgãos de comunicação social, de modo a conseguir redações que tenham, diferentes opiniões que tenham diferentes trabalhos. Não é nada de particularmente revolucionário: no Luxemburgo o Estado paga às cegas uma parte substancial das redações o que faz com que exista um semanário próximo de um partido parecido com o BE, um diário próximo do Partido Comunista, e dois ou três ou quatro jornais de várias tendências sociais e políticas e feitos de forma jornalística”.