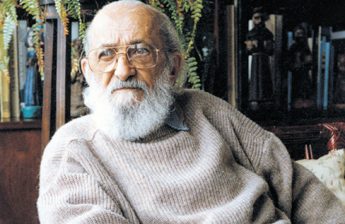O regime sírio era um dos últimos herdeiros do movimento pan-arabista baseado em ideias como soberanismo, secularismo e socialismo. A luta contra o colonialismo e o intervencionismo ocidental no mundo árabe espoletou a ideia da união dos Estados na região, à cabeça com destaque para a figura de Gamal Abdel Nasser, militar egípcio que liderou a queda da monarquia no Egito e se destacou pela nacionalização do Canal do Suez e pela guerra contra Israel. Por outro lado, o partido Baath foi, na Síria e no Iraque, o motor de processos de emancipação desses países que garantiram, entre outras coisas, a estatização dos setores fundamentais da economia, a laicização do Estado e a igualdade legal entre homens e mulheres (a vice-presidência síria estava nas mãos de uma mulher).
Cabe destacar que, assumindo diferentes modelos de regime, e com muitas contradições internas e externas, algumas destas características foram comuns a vários países não só do Médio Oriente, incluindo o Iémen do Sul, mas também no Norte de África, como os casos da Líbia e Argélia. De todos estes, pode dizer-se que apenas resiste o último caso.
As sucessivas revoluções, golpes militares e mudanças internas de poder na maioria destes países ao longo de mais de meio século não foram alheias às tentativas de ingerência das potências ocidentais, onde pairava a permanente ameaça de Israel.
A tentativa de descontextualizar a formação destes regimes no seu tempo histórico não ajuda a entender que no Médio Oriente o surgimento de modelos diferentes aos ocidentais correspondia não só às características próprias daqueles processos e daquelas culturas mas, simultaneamente, à necessidade de blindar esses Estados contra a ameaça externa.
Ao mesmo tempo que os países ocidentais tentam apagar o histórico de brutalidade e terrorismo dos novos líderes da Síria, alimentam uma campanha para atribuir exclusivamente ao regime encabeçado por Bashar al-Assad todo o tipo de crimes.
Toda a poeira assenta e, infelizmente, para o rigor histórico, demasiado tarde. Há poucas semanas a CNN era apanhada com a sua repórter estrela a apresentar uma falsa história de um alegado prisioneiro ainda encarcerado passada uma semana da queda do regime. Já poucos se lembram que foi uma agência norte-americana de comunicação que produziu a faísca que garantiu a primeira agressão dos Estados Unidos ao Iraque. Em 1990, Nayirah al-Sabah, uma adolescente kuwaitiana, denunciou no Congresso norte-americano que havia testemunhado que soldados iraquianos, durante a invasão ao Kuwait, tinham entrado numa maternidade e arrancado bebés das incubadoras para os deixar morrer no chão. Era mentira. Mais tarde descobriu-se que Nayirah era, na verdade, a filha do embaixador do Kuwait em Washington. O mesmo aconteceu com os inexistentes 40 bebés israelitas decapitados pelo Hamas que ajudaram a justificar o começo do genocídio em curso.
Quem são os vencedores?
A cobertura de acontecimentos em curso exige uma análise cuidada dos factos para que não sejamos atropelados pela propaganda dos vencedores ou dos vencidos. No dia a seguir à queda de Bashar al-Assad, era o próprio Benjamín Netanyahu que reclamava a autoria da mudança de regime. Telavive bombardeava há meses a Síria sem que isso tivesse provocado qualquer tipo de indignação no Ocidente. Logo após a tomada do poder por parte do Hay’at Tahrir al-Sham (HTS), as tropas israelitas avançaram sobre território sírio e ocuparam não só a totalidade dos Montes Golan como estacionaram os seus soldados a poucas dezenas de quilómetros de Damasco. Perante mais uma agressão de Israel, a resposta cúmplice do novo líder da Síria, Abu Mohammed al-Jolani, foi esclarecedora. Não é tempo de novas guerras. De terrorista a rebelde, al-Jolani, o novo herói do Ocidente, trocou o turbante por um vestuário que faz lembrar Volodymyr Zelensky, algo que não passou despercebido. A decisão que mais significado terá é a que terá mais impacto no tabuleiro do Médio Oriente e beneficia, naturalmente, Israel e os Estados Unidos. As novas autoridades avisaram as organizações da resistência palestiniana na Síria que deixarão de ter acesso a armas e que os seus campos de treino e sedes serão desmantelados.
O avanço do HTS sobre Damasco não teria sido possível sem o apoio da Turquia e o novo poder já anunciou uma aliança estratégica da Síria com Ancara. Por isso, a desarticulação das forças da resistência palestiniana naquele território tem, inevitavelmente, também a mão de Tayyip Erdogan, que tantas vezes puxou da retórica para atacar Israel e defender a Palestina. O facto é que dois líderes contestados e questionados como Erdogan e Netanyahu conseguiram uma vitória impensável há um ano. A Turquia é, inevitavelmente, quem mais ganha com esta mudança de poder e regime, uma vez que o namoro com forças próximas da al-Qaeda deu, finalmente, os seus frutos. Por outro lado, tem agora força para avançar sobre o território controlado pelos curdos, que tiveram até agora o apoio imprescindível dos Estados Unidos.
Com vários atores no terreno, está em causa a manutenção do território da Síria como o conhecemos. A chamada guerra civil, que durou sobretudo de 2011 a 2018, nunca foi uma guerra exclusivamente interna. Só com o apoio da Rússia e do Irão é que Bashar al-Assad pôde aguentar os ataques das forças apoiadas pela Turquia, por Estados do Golfo Pérsico e pelo Ocidente. Apesar de algumas contradições, os objetivos em comum conseguiram uma aliança que só teve êxito pela elevada preparação de organizações terroristas pela Turquia, pela debilidade das forças armadas sírias, o assédio de Israel ao Hezbollah e aos combatentes iranianos e a intervenção russa na Ucrânia.
Sem antecipar ainda que novo regime será este, cabe perguntar, para além da soberania nacional, onde ficarão os direitos das mulheres e das minorias religiosas, sabendo à partida que os setores estratégicos da economia serão muito provavelmente desmantelados e privatizados.