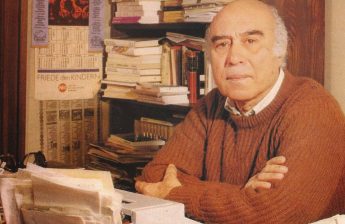O filme venceu o Grande Prémio do Júri nesse ano no Festival de Cannes, e é considerado um dos melhores filmes da década 2010. Mas a potência de “A Árvore da Vida” está para lá destes epítetos concedidos pelo meio cinematográfico.
“A Árvore da Vida” é uma obra especial e delicada. Toca no que existe de eterno e simultaneamente efémero em cada ser humano. E ser-se humano é também sentir que tudo o que vemos e ouvimos pode ser mais do que aquilo que percepcionamos. O que sentimos vem de longe, pode estar nas entrelinhas. As fabulosas imagens do espaço e do cosmos contam-nos como a Terra e o Universo já cá estavam antes de os habitarmos. Assim continuará a existência.
A voz inicial da mãe (a actriz Jessica Chestain) prevalece como eco: existe uma diferença entre a graça e a natureza. A graça é humilde, não exigente, entrega-se. A natureza domina, e vive para si. E conclui que quem vive de acordo com a graça nunca terá uma vida infeliz. Com esta comparação, Malick anuncia uma espécie de cometa filosófico que percorre o filme, e que formulamos numa pergunta: Deixamo-nos, ou não, tocar pelo inefável na beleza do mundo?
Não vale a pena entrarmos em “A Árvore da Vida” com ideias feitas, com o pensamento de que nos vai ser contada uma história. Este é um trajecto, como o próprio título indica, arborescente e da vida. Terence Malick traça os dias espaçados entre os anos 40 e 60 de uma família, mas também vai até aos nossos dias. Acompanhamos o percurso de uma mulher e mãe que dá à luz três filhos, os vê crescer, até que um deles morre aos 19 anos. A dor indescritível do luto estabelece o caminho entre a incompreensão, o sofrimento e a aceitação de que é preciso deixar ir quem partiu fisicamente. O que quer que tal signifique para cada pessoa. “A Árvore da Vida” é também um filme sobre o luto pela morte de um irmão, como acontece à personagem de Sean Penn, o filho Jack, agora adulto. O luto dos dias de desespero e questionamentos. Para os recomeços: de uma outra vida, de um outro dia, de um outro relacionamento, da nova estação, da vida em família.
A dinâmica familiar é o centro da obra-prima de Malick. Filhos nascem, crescem. A mãe e o pai (Brad Pitt) dão-lhes uma educação diferenciada: existe compaixão materna (a graça) e austeridade paternal (a natureza). E tudo o que vemos é da ordem da poesia. Da ordem do sentir, mais do que da razão. Cada plano transporta a sua luz e coreografia únicas. Nem sabemos dizer porque é que este filme e tudo o que o compõem revolvem as entranhas para nos deixarem num pacífico estado de contemplação da beleza. É essa, talvez, a forma do divino.
Escutamos a celestial banda sonora; sabemos que o desafio e a coragem do realizador norte-americano, em “A Árvore da Vida”, é fazer-nos reflectir sobre a imanência e a transcendência. Ou seja: O que é que que acolhemos à noite de visível e misterioso, quando olhamos para cima?
“A Árvore da Vida” é filme das sensações que não sabemos descrever. É um filme em que as vozes interiores das personagens são narrações do que também ansiamos, questionamos e desejamos para a nossa vida. Ver “A Árvore da Vida” é compreender que o silêncio pode ser o mais melódico discurso. E, mesmo assim, não existem respostas para os insondáveis enigmas.
É um filme que merece ser visto, durante os seus 138 minutos como uma única viagem (Malick fez uma outra versão com mais 50 minutos, em 2018). Como se da vida se tratasse. Sem paragens no tempo. Uma corrente que podemos estranhar, quando a iniciamos, mas que nos envolve, e nos deixa face-a-face com a criação, o nascimento, os dias comuns e o etéreo. A poesia – a mais suprema das artes – toca nesse lugar de criação, de expressão artística, capaz de alcançar aquilo que achávamos já ter perdido: a capacidade de nos emocionarmos, de ficarmos a ponderar sobre algo como o poema de Arseni Tarkovski: “mas não pode ser só isto.”
Um filme sublime. A rever em 2025.