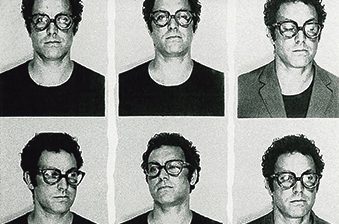O “Teatro da Rainha”, fundado em 1985, veio a Lisboa apresentar Police Machine, peça de Joseph Danan, escritor e professor na Sorbonne. Uma importante passagem pelo Teatro da Politécnica, que deu a ver o trabalho criativo desenvolvido por uma companhia teatral de outra cidade, neste caso as Caldas da Rainha.
Estamos ainda a entrar na sala e a procurar o nosso lugar, quando somos “invadidos” pelo som ensurdecedor de uma banda de música. À nossa frente está um enorme ecrã, onde passam imagens numa montagem acelerada de raparigas que cantam de forma agressiva.
São vários os mosaicos que se seguem a um ritmo alucinante, também ele violento, que não nos deixa espaço para pensar sobre o que estamos a ver e a viver. Aliás, como a meio da peça nos adverte sob um círculo de luz uma personagem de chicote e cartola (a lembrar um domador de leões), estamos protegidos, no teatro, e podemos tomar tudo aquilo por um sonho profundo.
“Police Machine é um circo de feras, onde a violência e as agressões são contínuas.”
Police Machine é um circo de feras, onde a violência e as agressões são contínuas. Aqueles que ameaçam, fazem e deixam as suas marcas nas almas e nos corpos de outros. Aqueles que são vítimas tornam-se ainda mais impiedosos. Talvez por isto a alucinação pareça colectiva. Queremos acreditar que este é um submundo ao qual, de facto, não pertencemos – apenas estamos a assistir. Mas esse “apenas” — lugar do espectador — é o bastante para nos elucidar que estas vidas, histórias, acasos, relações e crimes acontecem aos nossos olhos, nos nossos dias, escondidos, desculpados.
Quando a (i)mortalidade de Deus é assassinada
Estamos num mundo sem amor e redenção. A sensação que vamos construindo é comprovada quando, na penúltima cena (aquela em que o ritmo desacelera e o tempo parece distender-se) aparece a um canto, sentado e com um charuto entre as mãos, Deus. Deus é um velho de barbas em robe e chinelos. A Deus só perguntam se Ele está satisfeito com a sua obra. É o que o rapaz que o vê faz. Deus não responde, ou melhor, ficamos com o silêncio de Deus. Atrás dele, permanece a tela vermelha já há alguns episódios. Não são imagens violentas como no início, não é a noite de uma tela negra, nem é a brancura da esperança num ecrã branco. Este ecrã devolve uma espécie de Inferno sobre a terra, tão infernal como o de Dante. Na obra do escritor italiano, caminhamos pelo Inferno e Purgatório, sabendo que, se aguentarmos e continuarmos, chegamos ao Paraíso. Em Police Machine, o rapaz sem esperança descreve à divindade todos os crimes, violência e violações a que assistiu, e depois dá-lhe um tiro.
“Na escuridão do palco ficamos com Deus morto.”
Na escuridão do palco ficamos com Deus morto. E, neste caso, como acontece em a “Gaia Ciência” (de Nietzsche), não temos um louco na noite com a lanterna a anunciar à todos que Deus está morto. Assistimos à sua morte em directo. Deus é só mais um, fatigado, sentado numa berma, sobrevivendo em vez de ser dono da sua vida e da sua alegria para viver.
A contagiosa máquina da violência
A máquina da polícia é, na verdade, a máquina do contágio: do sofrimento e da vingança. Porque profundamente sós já estão todas as personagens, e assim continuarão. Estamos perante humanos, semi-humanos ou outros seres, resultado desse mundo sem transcendente ou ideologias, sem saída e ou liberdade interior?
Existe um momento em que as coisas podiam inverter-se: a prostituta não aceita os três euros do referido rapaz, deita-se no passeio, e deixa que ele se deite ao seu lado para juntos dormirem um pouco. A rapariga adormece com a mão sobre o ombro do rapaz. Este é único gesto de afecto de toda a peça. Mas o rapaz não só não o percebe como se vinga daquela serenidade e ternura, roubando-lhe a mala. É dentro da mala que está a arma que acaba com a (i)mortalidade de Deus.
Depois desta morte, na esquadra de polícia tudo é possível: a máquina do mal pelo mal. E ficamos com a sensação que pode até ser o centro e o ponto-de-partida de tudo…
Police Machine é um texto arrojado, que o Teatro da Rainha teve a coragem de trazer a palco, com a encenação do próprio dramaturgo, com interpretações à altura. Um naipe de actores onde vigora uma interessante orquestração de idades e experiências, provando que é preciso que outras companhias e profissionais do espectáculo venham a Lisboa mostrar o seu trabalho e talentos (e que tal podia acontecer com mais frequência).