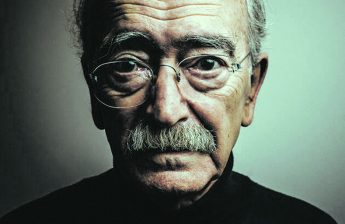Se a ideia dos discos, enquanto objetos com coerência artística, perdeu hoje importância e as singularidades vendidas pela indústria da música são mais de âmbito estético, de modo a valorizar o objeto físico que ain- da resiste como mercadoria no tempo do digital, as efemérides podem servir para valorizarmos, antes, a criação artística na música. Assinalar aniversários de discos acaba por ser como desenhar um mapa da cul- tura popular e de todas as maravilhas que ela nos deu até agora, das viagens que fomos fazendo com esses discos, das histórias que eles nos vão contando e da forma como essas histórias passam a ser nossas, como as acolhemos e relacionamos com o nosso quotidiano. Há discos que, por isso, têm um papel crucial até na compreensão da sua época ou na compreensão daquilo que não obedece ao tempo e ao espaço. Há 50 anos, a 22 de junho de 1971, Joni Mitchell lançava o seu quarto álbum, que os melómanos acolheram imediatamente como uma obra maior. Na verdade, Mitchell gozava, à época, de um prestígio que já saía do nicho aborrecido dos baladeiros que ao longo da costa oeste dos EUA entediavam o mundo. E o que Joni tinha de especial está sintetizado em Blue: um conjunto de histórias que se cruzam e se materializam muito para além dos poemas que as contam. Em Blue tudo é dilema e dicotomia, tudo é um diálogo constante entre o tangível e o intangível, e tudo isso assume formas diferentes, que aparentemente nunca se tocam, como o piano e a guitarra que, em momento algum, se encontram em todo o disco. A escolha instrumental é, aliás, uma demonstração do génio de Joni: onde há viagem para dentro há um piano íntimo e onde há estrada e céu e mar ela confia no metal das cordas das guitarras para sugerir o movimento, a descoberta e a maravilha. Este jogo vai-se intercalando, orientando os nossos sentidos, provocando o inevitável entendimento da viagem que nos é pro- posta, entre o blue melancólico e o blue mediterrânico que encontrou nas ilhas gregas e onde se apaixonou de copo na mão. Ao mesmo tempo, enquanto admira esse azul do mar, pensa em casa, nos encontros e desencontros, saltando de uma nuvem de contemplação para uma outra onde a angústia espreita.
Mas, em Mitchell, nenhuma angústia é demasiado dramática, nada é fatal. As viagens terminam, o bronzeado vai desaparecendo dos ombros, assim como as paixões de verão, e o que fica são as rugas que nos devolvem ao nosso caminho com toda essa aprendizagem, com essa persistência em continuar um caminho que é só nosso. Blue não é, por isso, um disco sobre uma melancolia óbvia e idealista, é um disco sobre tatuagens – como a própria escreve – e sobre construção. É essa a grande viagem – a nossa, a dela e a nossa com ela.