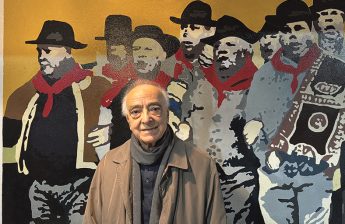Durante anos, a imposição do défice de 3% impediu-nos em várias ocasiões de investir mais na saúde, educação, transportes, etc. Como é que, de repente, essa regra deixa de ser um dogma para investirmos na indústria da guerra?
As regras até endureceram para lá da aceitação do défice de 3%. Na realidade, as sucessivas revisões do quadro muito constrangedor das regras orçamentais apontam para a obtenção de superavits orçamentais. Portanto, é a ideia do equilíbrio como elemento permanente das finanças públicas, esquecendo que se há superavit do setor público, isso provoca, por via da degradação dos serviços públicos e até da própria contenção salarial na função pública, grandes dificuldades, ou seja, défices, às famílias da classe trabalhadora.
O que é novo na atual situação — mas ao mesmo tempo está no prolongamento de anteriores momentos —, é esta noção de que quando os poderes fáticos da União Europeia, as instituições europeias, a começar pela Comissão Europeia e as principais potências, decidem que há um qualquer estado de exceção, as regras são contornadas, suspensas. Vimos isso com a pandemia e agora vemos isto com este pretexto para convocar um novo estado de exceção, no sentido de aumentar despesa com a defesa, ou seja, com aquilo que nós podemos designar a corrida armamentista e que justifica uma espécie daquilo a que alguns têm chamado keynesianismo militar. Enfim, a própria Alemanha acabou de decidir, com os votos favoráveis da direita do SPD e dos Verdes, que o travão à dívida era para contornar para favorecer investimentos naquilo que nós podemos designar de complexo militar industrial, corrida armamentista, keynesianismo militar; que se trata precisamente de usar a despesa pública, o consumo e o investimento públicos, para financiar despesas de guerra.
Porque é que isto nunca se fez em relação à saúde ou à educação?
Eu acho que há claramente um viés de classe. Há muito tempo que sabemos que as despesas de saúde e educação, que são socialmente úteis, têm um enorme efeito de, por serem socialmente úteis e por se dirigirem às classes primordialmente populares, criarem o que muitos consideram um círculo virtuoso, e outros um círculo vicioso, precisamente de aumento das expectativas democráticas e das exigências democráticas.
Ao contrário, as despesas militares, para lá de favorecerem, enfim, setores económicos muito dirigidos, são uma forma de tentar estimular a economia sem criar essas expectativas democráticas. Ao contrário, reproduzindo uma lógica de medo entre amplos setores da população e, portanto, isso tem um certo efeito também conservador.
Von der Leyen falou em 800 mil milhões. O que pode significar isso para Portugal?
O que nós temos tido no caso português é uma enorme ausência de discussão. Sabemos que o programa já aceite explícita ou implicitamente, por aquilo que podemos chamar de partidos do bloco central, que obviamente não vão desafiar estas indicações, é de um continuado aumento no orçamento para a defesa, com o aumento da sua percentagem atingindo os 2% e, fala-se, em 3% e até para lá disso. Obviamente, num país com os constrangimentos de Portugal vai significar, pelo menos, que as verbas que estão destinadas a esses setores não estão destinadas aos serviços públicos ou à resolução do gravíssimo problema de habitação.
Portugal é um dos países da União Europeia onde historicamente o Estado menos investiu em habitação. O parque público de habitação é dos mais baixos de toda a UE. E nós sabemos que para resolver o problema da habitação tem de haver, de facto, uma reconversão do edificado em habitação pública, e isso exige investimento público e propriedade pública.
Há bases militares norte-americanas e milhares de soldados em todo o continente. A aceitação por parte dos países da UE do papel dos Estados Unidos como guarda-costas, abdicando das suas soberanias, foi um erro?
Em primeiro lugar, acho que há um equívoco que passa por se considerar que de alguma forma os Estados Unidos foram, são e serão uma espécie de guardiões da UE. Na realidade, a presença militar dos Estados Unidos no continente europeu é indissociável da influência, do controlo económico e político dos Estados Unidos no continente. E, por fim, não é um fator de paz, antes pelo contrário. Nós podemos dizer que o empenho norte-americano e de muitos países europeus na manutenção, depois da Guerra Fria, da NATO e da sua expansão criou e alimentou fortíssimas tensões e até conflitos na Europa. A começar nos Balcãs. E, portanto, eu acho que há aqui um equívoco sobre esta ideia de que os EUA, de alguma forma, terão permitido aos países da União Europeia poupar, entre aspas, nas suas despesas militares. Não. Há aqui uma presença dos EUA que não foi benigna. Em segundo lugar, o que está em causa é um programa que vem desde antes do próprio Trump, de que os norte-americanos querem que os países europeus da NATO assumam um maior compromisso em matéria de contribuição para essa organização política e militar. É disso que se trata. No fundo, os países [europeus], empolando as diferenças com a administração Trump para consumo de certos setores da opinião pública europeia, estão a aumentar os orçamentos de defesa, tal como os norte-americanos exigem. E, no fundo, a fazer convergir os países europeus com o tipo de economia política que vigora nos EUA, onde o Estado social tem muito menos expressão do que em muitos países europeus e, pelo contrário, o Estado policial e de guerra tem muito mais expressão. Se esta lógica prevalecer haverá uma maior convergência entre os países, neste caso da União e da NATO com os Estados Unidos.
Acha que há o perigo de uma espécie de americanização da União Europeia?
Acho que isto na realidade é parte de um longo processo de americanização. A UE serve precisamente para isso. Serve de veículo para essa americanização da Europa, no sentido em que faz convergir os países da União Europeia por um padrão de um Estado social mais erodido, de redução dos direitos laborais e de correspondente agigantamento da dimensão repressiva e, digamos assim, guerreira associada ao Estado no capitalismo.
Há um duplo discurso sobre a Rússia que secontradiz entre o seu poder para invadir todo o continente e a sua incapacidade para derrotar a Ucrânia. Até que ponto é assim tão urgente esta histeria pela corrida às armas?
A corrida às armas pressupõe um claro agigantamento e mesmo invenção de inimigos externos e internos. E, portanto, é parte dessa lógica de condicionamento do debate democrático e é a criação de um círculo vicioso, porque à medida que os complexos militares industriais se vão reforçando, obviamente essas indústrias têm fortíssimas ligações àquilo a que nós podemos chamar os complexos académicos e mediáticos. O que me parece estar em causa na política externa de Trump, é claramente, uma consolidação que, de resto, é partilhada por republicanos e por amplos setores do Partido Democrata, da China como o grande rival. E nesta lógica seguidista dos países europeus em relação a tudo o que as administrações norte-americanas digam e façam, isto é um bocadinho paradoxo. Os países da UE só começaram a falar, ainda que de forma relutante, de paz quando houve este movimento diplomático por parte dos EUA que, na realidade, corresponde à noção de que é preciso dar prioridade à confrontação com a China e que é preciso, de alguma forma, uma solução política e diplomática para o caso da guerra da Ucrânia.
A UE alegou que estava em causa a defesa dos valores europeus para apoiar a Ucrânia. Onde ficaram esses valores quando se trata das agressões de Israel no Médio Oriente?
Qualquer ilusão de que as elites do poder na UE agem por valores universais, que são aqueles que estão plasmados na ordem associada à Organização das Nações Unidas, que é a única que existe em termos de Direito Internacional, desaparece quando vemos a resposta à questão palestiniana. Onde o genocídio tem tido um respaldo, por várias vias, das instituições europeias e da Alemanha, onde o apoio a Israel é incondicional. Essa discrepância mostra, claramente, que estamos perante não uma questão de valores, mas de relações de poder, pura e simplesmente. E é disso que se trata.
Entre estes valores tem-se falado muito, nos últimos meses, em conquistas sociais e democráticas, mas nas últimas décadas vimos como a banca foi privilegiada à frente desses direitos sociais. Acha que os cidadãos da UE têm razões para acreditar que estes direitos estarão protegidos neste contexto?
A UE reclama para si um certo modelo social europeu. Mas, na realidade, o que nós temos historicamente de conquistas laborais e sociais dá-se no quadro dos Estados nacionais. E, em larga medida, as erosões dos direitos laborais e sociais foram favorecidas pela lógica da integração supranacional, que retirou aos Estados instrumentos de condução, pilotagem, planeamento das suas economias e das suas próprias sociedades. Ou seja, tudo isso é questionável a partir do momento em que os Estados perdem instrumentos de política económica, a partir do momento em que a sua política orçamental é constrangida, a partir do momento em que a mensagem, desde a criação da UE, no início da década de 90, é de que os direitos laborais são variáveis de ajustamento e que a prioridade é a criação de mercados — quando chega a troika, as intervenções externas com o patrocínio da Comissão Europeia, do Banco Central Europeu e do Fundo Monetário Internacional, temos num certo sentido a confirmação dessa lógica. Incluindo, recentemente, a aposta na subida rápida e sem precedentes das taxas de juro, a pretexto do combate à inflação, que não tinha origens monetárias. Foi uma maciça subsidiação dos lucros do setor bancário à custa das empresas produtivas e das famílias endividadas. E o que nós temos nos lucros recorde da banca não se deve a qualquer ganho de eficiência da banca ou qualquer mérito da sua gestão, deve-se, simplesmente, à política do Banco Central Europeu.
Acha que a Portugal corresponde um futuro mais desenvolvido quanto mais relações tiver com outros países fora do âmbito da União Europeia?
Se nós estamos num mundo mais multipolar, eu acho que há toda a vantagem em diversificar relações. Um dos efeitos que a integração europeia teve, e em parte é até natural que assim fosse até certo ponto, particularmente na intensificação das relações com Espanha, foi um estreitamento geográfico da economia portuguesa, das relações económicas da economia portuguesa. E isso, obviamente, correspondeu ao aumento da dependência em relação aos mercados europeus. E Portugal não tem uma autonomia própria para o desenho da sua política comercial e, portanto, essa diversificação pode fazer-se, digamos, pelo próprio aumento do peso desses países no comércio internacional. Mas nós estamos numa fase tão incerta que tanto podemos estar à beira do aprofundamento da integração internacional como à beira de um processo mais ou menos acelerado de redução da integração internacional. Portanto, eu acho que nós temos que cuidar do poder de compra das classes trabalhadoras. É precisamente esta preocupação e atenção que nós temos de ter no mercado interno português. Nós temos uma excessiva dependência dos mercados internacionais. E uma especialização em setores exportadores de serviços, em que o turismo se destaca. E eu acho que isso não é, enfim, muito avisado. Acho que essa dependência é excessiva.